 74 mil ingressos vendidos. É o que divulga a Brasil 1 — empresa estreante no ramo de shows que comprou o produto The Police para o Brasil e está encarregada de sua produção. Com pequeno atraso, por volta de 5h15, os primeiros fãs entram pelos portões. Ao invés de revistar, um segurança pergunta: “Tem garrafa? Lata? Tá armado? Então, entra”. “Ufa, pelo menos a máquina fotográfica (proibida no verso do ingresso) não corre risco de ser confiscada.” Os cartões magnéticos, personalizados para o show, são engolidos pelas catracas eletrônicas. Eles não são devolvidos, para o desapontamento de quem pagou até R$500 para assistir o retorno, depois de 23 anos, do maior trio do rock mundial.
74 mil ingressos vendidos. É o que divulga a Brasil 1 — empresa estreante no ramo de shows que comprou o produto The Police para o Brasil e está encarregada de sua produção. Com pequeno atraso, por volta de 5h15, os primeiros fãs entram pelos portões. Ao invés de revistar, um segurança pergunta: “Tem garrafa? Lata? Tá armado? Então, entra”. “Ufa, pelo menos a máquina fotográfica (proibida no verso do ingresso) não corre risco de ser confiscada.” Os cartões magnéticos, personalizados para o show, são engolidos pelas catracas eletrônicas. Eles não são devolvidos, para o desapontamento de quem pagou até R$500 para assistir o retorno, depois de 23 anos, do maior trio do rock mundial.
O Maracanã é realmente gigante; um monstro. É tão grande que se perde a noção da distância dentro dele. 100 ou 200 metros? Não dá para dizer. O palco tem 60 de largura, mas parece haver o triplo do seu tamanho de cada um dos seus lados até os limites do estádio.
Quando o templo do futebol mundial está praticamente cheio, nota-se que, pelo menos, 50% do público não saberia dizer o nome de 3 músicas da banda e, desses, um terço não saberia dizer nem o de uma. Não é o caso da família que acaba de chegar. O pai tem 50 e poucos anos, estilo pirata-motoqueiro, rabo de cavalo grisalho, com camiseta da banda. O filho, cerca de 25, cabelo comprido, também estampando “The Police” no peito em uma camiseta baby-look. Em primeira análise, pensei tratar-se de um argentino, mas depois que o ouvi falando, descartei e formulei outra teoria: seu pai, fã incondicional da banda inglesa, lhe deu essa camiseta quando tinha 10 anos de idade e foi fazendo lavagem cerebral na criança, até que ela soubesse a ordem de todas as músicas de todos os discos do trio. O guri veio, então, vestindo a própria, como certificado inexorável de sua devoção policiana. A filha, com seus 18 anos, veste a frase “Rock Hookers”, a qual, tenho impressão, não saber o que significa, muito menos seu pai e irmão. A mãe, está de verde.
“Vital andava a pé e assim achava que estava mal.”
São oito horas em ponto. Os Paralamas iniciam o show de abertura da banda que serviu de cartilha para seus primeiros álbuns. “Em cima destas rodas também bate um coração” canta um Herbert Vianna guerreiro, parodiando sua própria canção sobre o “acessório inseparável” com o qual ele não nasceu. Só que, agora, os aros são outros. O público gosta, respeita e aplaude. São os Paralamas do Sucesso. E isso basta. É claro que o som está ruim onde eu estou. Meu consolo é pensar que melhorará quando o Police entrar e que só deve haver um local ideal para se ouvir: bem no centro, em frente à mesa de som, se soqueando com umas 30 mil pessoas que querem ocupar o mesmo espaço. Mudo de ideia. Tá tribom aqui.
“Just a castaway. An island lost at sea.”
Nove e meia. Uma parte importante da minha vida musical está diante de mim. Um “diante” meio distante, é verdade. Apesar dos braços enormes, Stewart Copeland é uma formiguinha de onde estou. Ainda bem que há sete telões. Somente umas poucas mil pessoas, que pagaram 500 pratas para ficar bem frente ao palco, devem ter visto a olho nu que Sting usa algo como umas 30 pulseirinhas douradas. Só quem não precisa mais provar nada pra ninguém na vida, como ele, teria coragem de usar. O pai da família ao meu lado, grita toda a letra da música, desesperadamente, em coro com seu filho. A filha e a mãe olham para trás assustadas com a cena que estão presenciando. Seria aquele seu verdadeiro pai ou o que não lhe deixa voltar tarde da balada? Seria aquele o marido quem casara ou o que reclama, frequentemente, que sua camisa não está bem passada?
Cada vez que o guitarrista Andy Summers aparece no telão mais próximo, pai e filho gritam uníssonos “Andy, Andy, Andy”. É muito engraçado, pois é o guitarrista, reconhecidamente, o mais desprovido de virtuosismo e carisma dos três. É, também, o que comete os deslizes mais perceptíveis. Andy faz parte, sem dúvida, da química de uma banda (perfeita em suas pequenas mazelas) onde Sting é o compositor, maestro sensato e celebridade de plantão. Copeland é a energia, segurança, técnica e performance. Andy, no máximo, é um músico com bom gosto, que sabe ouvir o que seus colegas de banda mais talentosos sugerem, principalmente, o baixista. Ele esquece de fazer os backings, Sting faz por ele. Ele erra uma entrada, Sting fuzila com o olhar. Quando é a hora de solar e as atenções se voltam a ele, Mr. Summers, faz uns barulhos, alguma frase melódica infantil ou numa escala que ele mesmo inventou: “Escala Summers de Improvisos Ao Vivo”. Mas o pai e o filho, não deixam passar: “Andy, Andy! Andy!”
Gritinhos histéricos de meninas de 15 anos não me convencem. Boyzinhos marrentos brigando por cerveja também não. Aquela família, sim, merece estar aqui e faz questão de demonstrar. Teorizo: o pai, com o filho, chegou em casa com os ingressos em mãos dizendo para as duas: “Vou levar vocês para ver a melhor banda do mundo de todos os tempos. Será meu presente de Natal a todos”. A mulher pensou: “Lá se foram as férias na praia”.
As músicas vão passando. As que eles não sabem as letras, urram somente as vogais finais das rimas — “Ai, meus ouvidos”. Mas lembram de todos os iê-ios. Sentem, sem dúvida, a falta de “Spirits In The Material World” e se surpreendem com as improváveis “Next to You” e “Invisible Sun”, ilustrada nos telões por fotos de crianças pobres e famintas. O pai ficará sem voz por uma semana. O filho chora todas as lágrimas de um ano inteiro, que vão parar no vestido verde da mãe. Ela e sua filha descobrem que até os homens mais brutos não passam crianças quando brincam com o que gostam.
Sem dúvida, a turnê mais lucrativa de 2007 é também o espetáculo mais elaborado e complexo na carreira da banda, pausada abruptamente em 1984. Quando vieram ao Brasil, dois anos antes, tocaram para dez vezes menos público e, naquele tempo, não havia a cultura dos megashows. Agora são telões, painéis luminosos, moving-lights que iluminam as nuvens. Melhor para a família do tiozão, que assiste a um espetáculo de primeiro mundo, com uma excelente banda, no maior estádio do planeta, compartilhando entre si a alegria de um pai que realiza seu sonho.
O show acaba. A família vai embora. Mas, ainda em tempo, nas rampas de acesso, com um resquício de voz: “Andy! Andy! Andy…”. Imagino-os acordando na madrugada, se é que vão conseguir dormir esta noite, esbaforidos, como quem desperta de um sonho bom, com a garganta arranhada, tentando chamar pelo guitarrista: “…! …!” Mas não há mais voz.
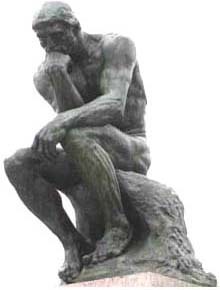 Sabem “O Pensador”, de Rodin? Há quem diga que ele está sentado, fazendo suas necessidades fisiológicas e pensando, é claro. É um convite a discorrer sobre um assunto que ninguém fala, mas todo mundo faz. Os Titãs já usaram o tema, em primeira vista escatológico, para fazer poesia. “Amor, eu quero te ver cagar”, é um dos versos de amor mais interessantes, sinceros que falam sobre a busca de uma intimidade total entre duas pessoam que se gostam.
Sabem “O Pensador”, de Rodin? Há quem diga que ele está sentado, fazendo suas necessidades fisiológicas e pensando, é claro. É um convite a discorrer sobre um assunto que ninguém fala, mas todo mundo faz. Os Titãs já usaram o tema, em primeira vista escatológico, para fazer poesia. “Amor, eu quero te ver cagar”, é um dos versos de amor mais interessantes, sinceros que falam sobre a busca de uma intimidade total entre duas pessoam que se gostam.




