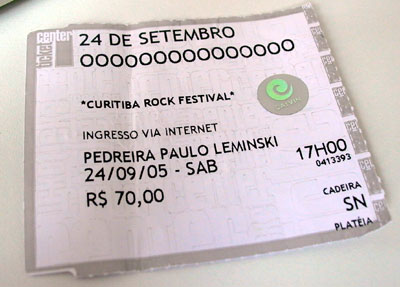A Raquelzinha é um quadro. Recentemente, ela se meteu em uma aventura bastante pitoresca. Resolvi escrever a história, através do depoimento dela, para enviarmos ao quadro Retrato Falado do Fantástico. Publico aqui ela na íntegra. É grande, mas pitoresca.
======================
Meu nome é Raquel, tenho 25 anos, moro em Pelotas, Rio Grande do Sul. Sou formada em Comunicação Social nas habilitações Jornalismo e Publicidade & Propaganda. Trabalho em uma agência como produtora gráfica, mas minha maior paixão é a fotografia. Já participei e/ou desenvolvi diversos projetos e exposições. No final de 2004, uma grande empresa, de expressão nacional e internacional, me contratou como fotógrafa para registrar os aspectos sociais, econômicos e ambientais de 17 cidades do sul do meu Estado. O meu equipamento fotográfico profissional, até então, era convencional (a base de filme 35mm), só que para aceitar a proposta com a agilidade exigida, eu precisaria adquirir um equipamento digital. E é, aí, que começa a minha aventura.
O preço do equipamento que eu pretendia comprar, no Brasil, era 3 vezes maior do que no Paraguay e consumiria quase todo o dinheiro que eu havia cobrado pelo trabalho. Não pensei duas vezes em pedir um favor ao amigo de um amigo de um amigo que estava indo para lá – ele só faria isso só para uma amiga de um amigo de um amigo. “É claro” que não era nada profissional ou ilegal. Era algo quase íntimo. Digamos, um favor comissionado. Mal sabia eu que meus problemas já estavam iniciando.
Já que o equipamento era profissional – algo bem específico – resolvi fazer uma pesquisa de preços nas lojas paraguaias por telefone. Achei o lugar que tinha o que eu queria, negociei o preço e mandei ele ir, especificamente, lá. A loja não fazia parte das que ele freqüentava habitualmente e, para piorar as coisas, estávamos perto do Natal – época de grande movimento comercial na fronteira e período em que a fiscalização é redobrada. Mesmo assim, cinco dias depois, nosso “amigo” volta, são e salvo, com a minha câmera. Paguei o combinado e fui pra casa. Eu estava algariadíssima, como uma criança que ganha um novo brinquedo. Mal podia esperar para chegar, carregar a bateria e começar a fotografar tudo. Só que o que aconteceu foi um pouquinho diferente disso. A primeira foto que eu bati saiu com um risco. O sensor da máquina estava com defeito. Eu bem que tinha sido avisada sobre os possíveis inconveniente de se comprar do Paraguay. É claro que o amigo do amigo do amigo, a essa altura, não era mais amigo de ninguém e não se responsabilizou pelo produto defeituoso – afinal, eu tinha dado o endereço de onde ele deveria comprar e ele seguiu a risca o meu pedido e tratava-se de um favor. Mais do que imediatamente, liguei para a loja, falei com o dono – chamaremos ele aqui de Seu Muhamed. Eu combinei que mandaria o equipamento de volta e ele devolveria meu dinheiro. Pelo menos essa troca, o “amigo” concordou em fazer em sua breve próxima viagem. Só que, alguns dias depois, quando ele retornou, me apresentou, ao invés do dinheiro, uma outra máquina. “Bom”, pensei eu, “se estiver funcionando desta vez, caso encerrado”. E ela estava, só que ao analisá-la com maior atenção, descobri uma etiqueta de conserto, feito no Brasil. Ou seja, além de usado, o equipamento era recauchutado. Eu não queria. Paguei por novo, quero um novo. O “amigo” disse que não quiseram devolver o dinheiro e que ele foi obrigado a trazer outra câmera: “ninguém devolve dinheiro no Paraguay!”, exclamou com veemência. Foi aí que ele me falou que, se tivesse que levar o equipamento em sua próxima viagem, não se responsabilizaria por uma apreensão na fronteira – “muy amigo”. As coisas estavam se complicando. O Natal já tinha passado. Eu estava perdendo tempo e dinheiro. Precisava resolver sozinha a situação.
Fui eu para o Paraguay. Peguei o primeiro ônibus que estava saindo. Era uma excursão cheia de “amigos”. Na viagem anterior, haviam sido assaltados na ida e o motorista baleado. Não é preciso dizer que o clima da viagem era muito tenso. Tinha uma velha atrás de mim que não parava de falar no assalto; rezava a cada freada do ônibus. Outro, do meu lado, não acreditou no que eu iria fazer e reforçou o que o “muy amigo” tinha me dito: “ninguém devolve dinheiro do Paraguay”. Além disso, eu não conhecia nada do lado de lá da fronteira. Combinei, então, com o dono da excursão, que ele me levaria na loja do Seu Muhamed. Para o meu desespero, mais um problema inesperado aconteceu: o homem começou a ter uma crise de visícula. Era tão forte que o ônibus precisava parar em todos os postos de pedágio para ele ser sedado. Não era difícil imaginar o estado dele quando chegamos ao Paraguay? Dormia feito uma pedra e eu não conseguia acordá-lo. Sacudia de um lado, sacudia do outro, gritava e nada. O alarme do relógio dele não parava de tocar e ele não ouvia, também. Todo mundo já tinha saído do ônibus rumo a suas compras e eu, ali, cutucando o homem para que despertasse de seu sono induzido. Finalmente – eu sou bastante insistente –, consegui. Pegamos a perua, com mais umas 30 pessoas e atravessamos a Ponte da – vejam só – “Amizade”.
Ainda eram 6 horas da manhã, mas a visão que tive ao chegar do outro lado da ponte era, no mínimo, dantesca. Muita poeira no ar; milhares de pessoas se acotovelando, com caixas, sacolas. Gente tomando tererê e cuspindo no chão; cuspindo nas outras pessoas. Parecia uma cena do filme Mad Max. Eu me sentia lá – o mundo acabou e aquilo era uma das poucas civilizações remanescentes, lutando pelo pouco de água que sobrara, ou pior, por equipamentos eletrônicos e luzinhas de Natal. Onde eu fui me meter?
Andamos, andamos, nos perdemos, nos achamos, nos perdemos. Até que, ao encontrar a loja, apesar de todas as outras já estarem abertas, as portas estavam fechadas. Parece que o Seu Muhamed tinha dormido tarde na noite anterior. Eu fiquei torcendo que, pelo menos, tivesse dormido bem. Na frente da loja, além de alguns clientes que aguardavam, estavam umas moças de uniforme cor-de-rosa, batom cor-de-rosa, tiara cor-de-rosa e meia calça cor-de-rosa. Eram funcionárias da loja. Eu realmente acreditei que estava no futuro – um futuro decadente, pobre, sujo, mas, ao mesmo tempo, tecnológico. De repente, uma poeira (maior ainda) levantou no horizonte. A multidão começou a abrir caminho. Eu vi um carro. Um BMW, um Mercedes, um Audi, sei lá. Um desses carrões pretos que o pessoal da máfia usa. A porta se abriu e Seu Muhamed desembarcou. A loja se abriu e ele entrou. Ele parecia o Osama Bin Laden. Todos foram atrás, inclusive eu. Uma das funcionárias cor-de-rosa me atendee. Expliquei a situação e ela me pediu a nota fiscal. Mas eu não tinha nota. Onde se viu nota fiscal no Paraguay? Ela me disse que, então, a devolução do dinheiro era impossível. Não me dei por vencida e falei: “quero ver o Seu Muhamed!”. Com ar irônico, ela apontou para o caixa e disse: “é ele, boa sorte”.
(continua acima…)